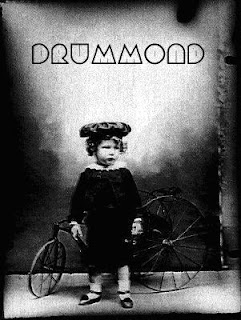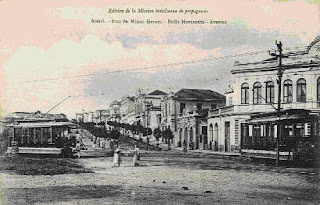Meus amigos, meus irmãos, cegai os olhos da mulher morena
Que os olhos da mulher morena estão me envolvendo
E estão me despertando de noite.
Meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena
Eles são maduros e úmidos e inquietos
E sabem tirar a volúpia de todos os frios.
Meus amigos, meus irmãos, e vós que amais a poesia da minha alma
Cortai os peitos da mulher morena
Que os peitos da mulher morena sufocam o meu sono
E trazem cores tristes para os meus olhos.
Jovem camponesa que me namoras quando eu passo nas tardes
Traze-me para o contato casto de tuas vestes
Salva-me dos braços da mulher morena
Eles são lassos, ficam estendidos imóveis ao longo de mim
São como raízes recendendo resina fresca
São como dois silêncios que me paralisam.
Aventureira do Rio da Vida, compra o meu corpo da mulher morena
Livra-me do seu ventre como a campina matinal
Livra-me do seu dorso como a água escorrendo fria.
Branca avozinha dos caminhos, reza para ir embora a mulher morena
Reza para murcharem as pernas da mulher morena
Reza para a velhice roer dentro da mulher morena
Que a mulher morena está encurvando os meus ombros
E está trazendo tosse má para o meu peito.
Meus amigos, meus irmãos, e vós todos que guardais ainda meus últimos cantos
Dai morte cruel à mulher morena!
Desde o Trovadorismo, o amor pela mulher tornou-se tema inesgotável da poesia ocidental e estiveram presentes no papel de musa, heroína, santa ou demoníaca, mas nunca como protagonistas de sua própria história, visto que, sempre retratadas a partir da óptica masculina.
O conceito de inferioridade feminina vem desde a Antiguidade, como se pode notar através das palavras de Pitágoras:
“Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher” (PITÁGORAS apud BEAUVOIR, 1997, p.6).
Já Aristóteles via a mulher como um ser incompleto, pois que só servia para a reprodução, ao passo que o homem era o ser completo, que dava a vida. Esta visão predominou durante toda a Idade Média e a Igreja Cristã acabou herdando e exacerbando esta visão da mulher procriadora e sem prazer sexual. Desta forma, a sexualidade feminina sempre foi analisada por uma perspectiva restritiva e negativa do ponto de vista da sociedade patriarcal.
Na literatura brasileira essa negatividade também se faz presente na obra de Vinícius de Moraes, temática onipresente em sua fase espiritualista que se resume em três livros: “O caminho para a distância” (1933), “Forma e exegese” (1935) e “Ariana, a mulher” (1936).
Nestas obras:
“[Há uma] Profusão de imagens, criadas a partir de fortes e simultâneas impressões sensoriais. Esse procedimento vem carregado de intenso sensualismo, que entrará em conflito com o sentimento religioso. Por isso o amor aparece aí como elemento “negativo”, pois liga firmemente o poeta ao mundo terreno, impedindo a liberação do espírito.” (MOISÉS, 1980, p.92.)
Os temas do eterno e do sublime aparecem na relação do sujeito lírico com as figuras femininas etéreas, envoltas em branco e/ou despertadoras do desejo, vivendo um constante conflito religioso, por meio do embate entre o amor carnal e preservação da castidade.
No poema “A volta da mulher morena”, de “Forma e Exegese” prevalece o tom de pregação religiosa ou suplício que, já nos versos iniciais, o eu-lírico convoca de forma imperativa sua confraria - os seus possíveis interlocutores (“tu”, segunda pessoa do singular e “vós”, segunda pessoa do plural) para a mutilação gradual (cegai, cortai, traze-me, salva-me, livra-me, reza) da “mulher morena”, causadora de tormento e do desejo proibido de um eu devoto a Deus.
A atmosfera pecaminosa é evocada a partir do 3° verso com a chegada da noite, período em que a libido é despertada. A adjetivação utilizada pelo eu-lírico: mulher morena, tonalidade que remete ao escurecer e a sedução, herança dos colonizadores europeus que viam na beleza exótica e na nudez morena das índias brasileiras, o convite ao pecado.
O título do poema é composto pelo substantivo “volta” que tem o sentido de regresso, perturbação constante e fonte de perdição, assim, a mulher morena como os mitos de Pandora, Lilith e Eva personalizam o pecado, pois liga o poeta ao mundo terreno, à queda, à imanência, impedindo sua transcendência e dissociando-o do caminho divino.
Nota-se o sofrimento deste eu que se debate entre rendição aos prazeres da carne e uma vida casta, pedindo então o esfacelamento da figura tentadora.
É importante ressaltar o fato da mulher morena não ser nomeada, perdendo, dessa forma, sua individualidade e constituindo uma alegoria do demônio lascivo que surge nas visões da noite, levando o homem ao pecado.
As imagens do corpo feminino são carregadas de fortes impressões sensoriais e sensualismo intenso e apresentadas de forma descendente, a partir dos olhos, lábios, peitos, braços, ventre e atinge as pernas: os olhos que envolvem, os lábios maduros, úmidos e inquietos, os peitos que sufocam à noite, os braços lassos que são como raízes recendendo resina fresca e como dois silêncios que o paralisam mostrando uma força quase incontrolável agindo sobre ele.
Impregnada pela negatividade que atrai o sujeito do poema, a mulher morena hipnotiza o eu-lírico de forma que todas as partes abominadas do corpo tornam-se centro de atração, isto é, a personificação do pecado. O sentido de negatividade presente nos poemas é invertido: ao invés de provocar o distanciamento do sujeito lírico, transforma-se em encanto, fascínio, algo do qual ele não consegue se desvencilhar, porém a relação física do eu-lírico com a mulher morena não se concretiza. É uma relação baseada na distância, na rejeição e na negação contada a partir do discurso masculino.
Outras mulheres são convocadas para ajudá-lo: a jovem camponesa, a mulher branca, o “anjo”, símbolo do amor platônico, sublime e espiritual do qual o poeta deseja o “contato casto” e que é a antítese da mulher morena, fonte do mal e do irrefreável apelo erótico; a branca avozinha, que simboliza pureza e a aventureira do Rio da Vida, ou seja, a prostituta, que o poeta saberia como lidar e não se envolveria emocionalmente.
Dessa forma, a saída encontrada pelo eu-lírico é decretar a morte da mulher morena, ao final de sua composição poética.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
- Embora houvesse, no contexto de 1930, uma atmosfera que defendia valores familiares como a mulher reprodutora e dona-de-casa, nota-se um outro tipo de mudança no comportamento das mulheres. A mesma época é marcada um fluxo maior das mulheres no mercado de trabalho e também um maior envolvimento em movimentos sociais e na militância político-partidária, como a Intentona Comunista de Luis Carlos Prestes em 1935. Além disso, em 1934 todas as mulheres passaram a ter o direito ao voto, algo anteriormente restrito às mulheres casadas com autorização dos maridos e a algumas solteiras ou casadas com renda própria.
Falar sobre a negatividade da sexualidade feminina não é apontar somente o caráter pecador e imoral perpetuado pela Igreja Católica, mas é também refletir como as concepções negativas acerca do feminino determinaram o destino de muitas mulheres, tanto na ficção como na sociedade. Pensar que às mulheres sempre coube o papel de musas é desconsiderar que elas também foram escritoras, porém, com uma produção desmerecida e raramente vista na forma de diários, cartas ou poemas. Além disso, percebemos ironicamente como o papel de musas inspiradoras motivou as mulheres a repensarem seu papel na história e a questionarem a própria história.
- Boas ou más, santas como Maria ou pecadoras como Eva, estas imagens maniqueístas de representação do feminino existem desde a Idade Média nas figuras de anjo e monstro. É também nesse período que as figuras de Maria e Eva, isto é, o anjo e o monstro ou a santa e a pecadora, foram difundidas em pinturas como forma de ensinar o povo analfabeto a noção de pureza e pecado.
“(...) Eva, Maria; uma simbolizando mais as mulheres reais e a outra a mulher ideal.”
A Virgem Maria aparece como o grande símbolo de maternidade e pureza, principalmente no século XII, durante o culto mariano. Apesar de suas aparições bíblicas estarem restritas a três episódios: a anunciação do anjo Gabriel, as Bodas de Canaã e a morte de Cristo na Cruz, sua imagem prevalece sobre a imagem de Eva, seu oposto, responsável pela queda do homem e dos males do mundo.
Mulher feita da costela de Adão, Eva era “a culpada da união carnal, marcando, desse modo, pesadamente o destino de esposa e mãe.” (DUBY e PERROT, 1990, p.33.) As definições feitas a seu respeito sempre enfatizaram o aspecto pecaminoso e contribuíram para que se fizesse uma leitura negativa a seu respeito. Uma das definições da época dizia que ela era o “primeiro modelo feminino que reunia todos os indivíduos do seu sexo. Súmula de elementos negativos e indutora da desobediência de Adão, personifica a tentação, a sedução, a deserção, a inimiga, a ‘porta do diabo’.” (DUBY e PERROT, 1990, p.33)
Ao mesmo tempo representando a possibilidade de transcendência e de imanência, como já afirmou antes Beauvoir, a figura feminina torna-se ambígua. A possibilidade de transcendência e as características angelicais conferem-lhe um aspecto santo, ao mesmo tempo em que leva o eu-lírico a cair em tentação a caracteriza negativamente como demônio. De santa à pecadora, a figura feminina do poema está vinculada à concepção feminina da Idade Média.
Imagens de santas e pecadoras estão presentes em obras canônicas como Macbeth de Shakespeare, no qual Lady Macbeth é a personagem perversa e ambiciosa que induz o marido a cometer um crime. Outra obra de Shakespeare, Hamlet, nos mostra uma Ofélia frágil, virgem e inocente, representando o amor idealizado. Nos sonetos de Petrarca, vemos em Laura uma figura feminina idealizada, inacessível, branca e loira como a Virgem Maria das pinturas do final da Idade Média e caminho para a ascese divina.