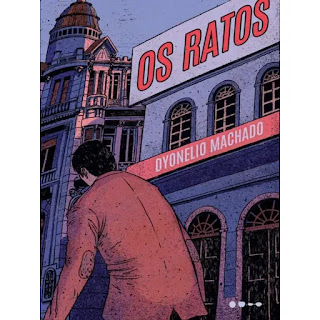GRAVATA, CAIO FERNANDO ABREU
A
primeira vez que a viu foi rapidamente, entre um tropeço e uma corrida para não
perder o ônibus. Mesmo assim, teve certeza de que havia sido feita apenas para
ele. No ônibus, não houve tempo para pensá-la mais detidamente, mas, no dia
seguinte, saindo mais cedo do trabalho, parou em frente à vitrine para
observá-la. Era nada menos que perfeita na sua cor vagamente indefinível,
entremeada de pequenas formas coloridas, em seu jeito alongado, na consistência
que pressentia lisa e mansa ao toque. Disfarçado, observou o preço e, em
seguida, retomou o caminho. Cara demais, pensou, e enquanto pensava decidiu não
pensar mais no assunto.
Quase
conseguiu — até o dia seguinte quando, voltando pela mesma rua, tornou a
defrontar-se com ela, no mesmo lugar, sobre um suporte de veludo vermelho,
escuro, pesado. Um suporte digno de tanta dignidade, pensou. E imediatamente
soube que já não poderia esquecê-la. No ônibus, observou impiedoso as gravatas
dos outros homens, todas levemente desbotadas e vulgares em suas colorações
precisas, sem a menor magia.
Pelo
vidro da janela analisou sua própria gravata, e decepcionou-se constatando-a
igual a todas as outras. Em casa, atarefado na cozinha, dispondo pratos,
panelas e talheres para o próprio jantar, conseguiu por alguns momentos não
pensar — mas um pouco mais tarde, jornal aberto sobre os joelhos, olhar perdido
num comercial de televisão, surpreendeu-se a fazer contas, forçando pequenas
economias que permitissem possuí-la.
Na
verdade, era mais fácil do que supunha. Alguns cigarros a menos, algumas fomes
a mais. Deitado, a cama pareceu menos vazia que de costume. Na manhã seguinte,
tomou a decisão: dentro de um mês, ela seria sua. Passou na loja, mandou
reservá-la, quase envergonhado por fazê-la esperar tanto. Que ela, sabia,
também ansiava por ele.
Trinta
dias depois ela estava em suas mãos. Apalpou-a sôfrego, enquanto sentia vontade
de usar adjetivos pomposos e cintilantes, de recriar toda a linguagem para comunicar-se
com ela — o trivial não seria suficientemente expressivo, nem mesmo o meramente
correto seria capaz de atingi-la: metafísicas, budismos, antropologias.
Permaneceu
deitado durante muito tempo, a observá-la sobre a colcha azul. Dos mais variados
ângulos, ela continuava a mesma, terrivelmente bela, vaga e inatingível — mesmo
ali, sobre a cama dele, mesmo com a nota de compra e o talão de cheques um pouco
mais magro ao lado. Olhava os sapatos, as meias, a calça, a camisa — e não conseguia
evitar uma espécie de sentimento de inferioridade: nada era digno dela. Um pouco
mais tarde abriu o guarda-roupa e então deixou que um soluço comprimisse subitamente
seu peito de coração ardente, como duas mãos que apertassem para depois libertá-lo
em algumas lágrimas desiludidas. Não era possível. Não podia obrigá-la, tão nobre,
a servir de companhia àqueles ternos, sapatos e camisas antigos, gastos,
vulgares, cinzentos. Foi depois de olhar perdido para o assoalho que teve como
um repente de lucidez. Então encarou agressivo a impassibilidade da gravata e
disse:
–
Você é minha. Você não passa de um objeto. Não importa que tenha vindo de longe
para pousar entre coisas caras na vitrine de uma loja rica. Eu comprei você.
Posso usá-la à hora que quiser. Como e onde quiser. Você não vai sentir nada,
porque não passa de um pedaço de pano estampado. Você é uma coisa morta. Você é
uma coisa sem alma. Você...
Não
conseguiu ir adiante. A voz dele estremeceu e falhou bem no meio de uma palavra
dura, exatamente como se estivesse blasfemando e Deus o houvesse castigado.
Um
Deus de plástico, talvez de acrílico ou néon. Olhou desamparado para o sábado acontecendo
por trás das janelas entreabertas e, sem cessar, para a colcha azul sobre a cama,
logo abaixo da janela e, mais uma vez, para a gravata exposta em seu suporte de
veludo pesado, vermelho.
Ele
enxugou os olhos, encaminhou-se para a estante. Abriu um dicionário. Leu em voz
alta:
Gravata
S. f: lenço, manta ou fita que os homens, em trajes não caseiros, põem à roda
do pescoço e por cima do colarinho da camisa, atando-a adiante com um nó ou laço.
Golpe no pescoço, em algumas lutas esportivas. Golpe sufocante, aplicado com o
braço no pescoço da vítima, enquanto um comparsa lhe saqueia as algibeiras.
Suspirou,
tranquilizado. Não havia mistério. Colocou o dicionário de volta na estante e voltou-se
para encará-la novamente. E tremeu. Alguma coisa como um pressentimento fez com
que suas mãos se chocassem de repente num entrelaçar de dedos. E suspeitou: por
mais que tentasse racionalizá-la ou enquadrá-la, ela sempre ficaria muito além
de qualquer tentativa de racionalização ou enquadramento. Mas não era medo,
embora já não tivesse certeza de até que ponto o olhar dele mesmo revelava uma
verdade óbvia ou uma outra dimensão de coisas, inatingível se não a amasse
tanto. Essa dúvida fez com que oscilasse, de tal maneira precário que novamente
precisou falar:
–
Você não passa de um substantivo feminino — disse, e quase sem sentir acrescentou
- ... mas eu te amo tanto, tanto.
Recompôs-se,
brusco. Não, melhor não falar nada. Admitia que não conseguisse controlar seus
pensamentos, mas admitir que não conseguisse controlar também o que dizia
lançava-o perigosamente próximo daquela zona que alguns haviam convencionado chamar
loucura. E essa era a primeira vez que se descobria assim, tão perto dessas coisas
incompreensíveis que sempre julgara acontecerem aos outros — àqueles outros distanciados,
melancólicos e enigmáticos, que costumava chamar de os-sensíveis — jamais a
ele. Pois se sempre fora tão objetivo. Suportava apenas as superfícies onde o
ar era plenamente respirável, e principalmente onde os sentidos todos sentiam
apenas o que era corriqueiro e normal sentir. Subitamente pensava e sentia e
dizia coisas que nunca tinham sido suas.
Então,
admitiu o medo. E admitindo o medo permitia-se uma grande liberdade: sim, podia
fazer qualquer coisa, o próximo gesto teria o medo dentro dele e, portanto, seria
um gesto inseguro, não precisava temer, pois antes de fazê-lo já se sabia
temendo, já se sabia perdendo-se dentro dele — finalmente, podia partir para
qualquer coisa, porque de qualquer maneira estaria perdido dentro dela.
Todo
enleado nesse pensamento, tomou-a entre os dedos de pontas arredondadas e
colocou-a em volta do pescoço. Os dez dedos esmeraram-se em laçadas: segurou as
duas pontas com extremo cuidado, cruzou a ponta esquerda com a direita, passou
a direita por cima e introduziu a ponta entre um lado esquerdo e um lado
direito. Abriu a porta do guarda-roupa, onde havia o espelho grande, olhou-se
de corpo inteiro, as duas mãos atarefadas em meio às pontas de pano. Sentia-se
aliviado. Já não era tão cedo nem era mais sábado, mas se se apressasse podia
ainda quem sabe viver intensamente a madrugada de domingo. Vou viver uma
madrugada de domingo — disse para dentro, num sussurro. — Basta apertar. Mas
antes de apertar uma coisa qualquer começou a acontecer independente de seus
movimentos. Sentiu o pescoço sendo lentamente esmagado, introduziu os dedos
entre os dois pedaços de pano de cor vagamente indefinível, entremeado por
pequenas formas coloridas, mas eles queimavam feito fogo.
Levou
os dedos à boca, lambeu-os devagar, mas seu ritmo lento opunha-se ao ritmo acelerado
da gravata, apertando cada vez mais. Ainda tentou desvencilhar-se duas, três, quatro
vezes, dizendo-se baixinho do impossível de tudo aquilo, o pescoço queimava e inchava,
os olhos inundados de sangue, quase saltando das órbitas. Quando tentou gritar é
que ergueu os olhos para o espelho e, antes de rodar sobre si mesmo para cair
sobre o assoalho, ainda teve tempo de ver um homem de olhos esbugalhados, boca
aberta revelando algumas obturações e falhas nos dentes, inúmeras rugas na
testa, escassos cabelos despenteados, duas pontas de seda estrangeira
movimentando-se feito cobras sobre o peito, uma das mãos cerradas com força e a
outra estendida em direção ao espelho — como se pedisse socorro a qualquer
coisa muito próxima, mas inteiramente desconhecida.
ANÁLISE CRÍTICA-LITERÁRIA:
“[...]
podia partir para qualquer coisa, porque
de qualquer maneira estaria perdido dentro dela”.
Caio
Fernando Abreu
No
conto “Gravata”, de Caio Fernando Abreu, há uma clara referência ao fator econômico
na construção do enredo e na estruturação das personagens, em um contexto
marcado por intensas transformações políticas e sociais.
O
texto de Abreu apresenta uma metáfora do indivíduo que é dominado e sufocado
pela sociedade, como uma crítica ao mercado, ao consumo excessivo que impera na
sociedade capitalista. A solidão do sujeito e a busca do amor em um objeto
retratam uma sociedade pautada na lógica do mercado.
Este
sufocamento se dá a partir da submissão da identidade individual do sujeito aos
padrões de consumo estimulados pelo sistema capitalista.
No
conto, a subjetividade do protagonista eleva-se em oposição à objetividade do
mercado consumidor, reproduzindo os dilemas mais íntimos dos sujeitos que
viviam no ambiente urbano e integravam a força produtiva da época.
O
conto “Gravata” apresenta um narrador onisciente que nos expõe a conturbada
relação entre um homem e um objeto (a gravata).
Desde
seu início, este conto revela-se como uma reflexão acerca da repressão imposta
pelo brutalismo característico da sociedade brasileira da década de 1970,
entusiasmada com uma promessa de progresso e cada vez mais desumana.
Como
afirma Ana Paula Ohe (2009):
O “milagre econômico”
brasileiro proporcionou ao país um crescimento da economia em ritmo acelerado.
O ingresso maciço de capitais e empresas estrangeiras possibilitara a ampliação
do mercado interno e externo. É nesse período, que pela primeira vez, a produção
brasileira encontrara um mercado consumidor significativo em outros países,
fazendo com que a transitoriedade dos modismos rompesse os limites territoriais
para inscrever-se num âmbito global, tornando visível as mudanças nos padrões
tanto de produção como de consumo. (OHE, 2009, p. 7)
Este
contexto, regido pela lógica do consumo, é refletido no conto a partir da busca
do personagem por se sentir incluído socialmente, através da aquisição de um
bem material capaz de diferenciá-lo dos demais:
“No
ônibus, observou impiedoso as gravatas dos outros homens, todas levemente
desbotadas e vulgares em suas colorações precisas, sem a menor magia” (ABREU,
2008, p. 24).
A
percepção de que a vida de algumas pessoas em sociedade se tornou efêmera e
corriqueira pode ser relacionada com o consumismo, com o acúmulo de bens
materiais e, consequentemente, de trabalho e de informação.
Assim,
o indivíduo busca sentir-se melhor por meio da aderência a modismos, no caso do
conto em análise, através da compra de uma gravata, que além de ser capaz de
destacá-lo entre seus iguais – outros homens com o mesmo padrão de vestimenta
e, que assim como ele, utilizam transporte coletivo –, também, por si só se
constitui em um símbolo de marcação de status.
Pouco
sabemos sobre o protagonista: trata-se de uma alegoria do homem comum. Desconhecemos
seu nome, somos informados sobre algumas de suas características físicas
(apresenta obturações e falhas nos dentes, rugas na testa e escassos cabelos)
somente no último parágrafo, até então o destaque era dado apenas à gravata) e
sobre parte de sua rotina de trabalho repetido por ele diariamente (trajeto de
casa de ônibus para ir ao trabalho, vive sozinho, prepara o próprio jantar,
fuma) e a cada saída para o trabalho ele passa pelos mesmos lugares.
A
construção desta personagem oferece pistas substanciais para reflexão do
distanciamento nas relações pessoais, do sentimento de solidão e perda de
identidade que o homem experimenta nas situações características da vida
urbana, que aglomera os seres, mas não os aproxima.
A
racionalidade predomina em suas ações e torna suas posturas mecânicas,
repetitivas.
A
personagem está conectada com o mundo através dos meios de comunicação de
massa, o que o torna presa fácil de campanhas publicitárias e ideológicas, que
como ainda hoje, empurram os indivíduos para um consumo desenfreado e
inconsequente, como pode ser constatado em trechos:
“Deitado, a cama pareceu menos vazia que de
costume” (Id. p. 25) e “em casa,
atarefado na cozinha, dispondo pratos, panelas e talheres para o próprio
jantar, conseguiu por alguns momentos não pensar – mas um pouco mais tarde,
jornal aberto sobre os joelhos, olhar perdido num comercial de televisão
[...]” (Id., p. 24).
Não
há no texto referência aos sujeitos que o protagonista possa conhecer ou
encontrar ao repetir diariamente o mesmo trajeto. Quando o narrador menciona os
demais homens que viajam no mesmo ônibus, estes surgem sem rostos, sem traços
físicos, sendo identificados apenas pelas roupas que portam. As roupas, assim,
são o elemento que equipara todos os homens, enquanto que, suas características
físicas e psicológicas não são levadas em consideração.
As
marcas urbanas, como as ruas, os ônibus, o asfalto e as lojas, são sobrepostas
aos aspectos humanos no texto.
“No ônibus, observou impiedoso as gravatas
dos outros homens, todas levemente desbotadas e vulgares em suas colorações
precisas, sem a menor magia. Pelo vidro da janela analisou a sua própria
gravata, e decepcionou-se constatando-a igual a todas as outras” (ABREU,
2001, p. 26).
Sua
rotina de trabalho estabelece certa “objetividade” em sua vida. Essa
objetividade, no entanto, é abalada pelo encantamento que ele passa a sentir em
relação a um objeto (uma gravata). Almejar um objeto novo, supostamente
superior ao que possuía, converte o protagonista em apenas mais um dos tantos
sujeitos que vivem na urbe, que fazem parte do sistema capitalista que nela
impera.
Após
ver a gravata pela primeira vez em uma vitrine, entre um tropeço e uma corrida
para não perder o ônibus, delineia-se uma relação sentimental entre o homem e o
objeto que se torna alvo de seu desejo e tem certeza de que ela havia sido
feita apenas para ele e que não poderia mais esquecê-la, então, passou a
organizar sua vida objetivando adquiri-la.
“No dia seguinte quando,
voltando pela mesma rua, tornou a defrontar-se com ela”
(ABREU, 2001, p. 26).
O
que surge como diferencial no texto é o fato do protagonista devotar um
sentimento tão forte para a gravata (denominado por ele de “amor”), dando ao
objeto um status único, equiparando-o a uma pessoa numa espécie de amor
platônico:
“No ônibus, não houve tempo
para pensá-la mais detidamente, mas, no dia seguinte, saindo mais cedo do
trabalho, parou em frente à vitrine para observá-la” (ABREU,
2008, p. 24).
“[...]
voltando pela mesma rua, tornou a
defrontar-se com ela, no mesmo lugar, sobre um suporte de veludo vermelho,
escuro, pesado. Um suporte digno de tanta dignidade, pensou. E imediatamente
soube que já não poderia esquecê-la. [...] surpreendeu-se a fazer contas,
forçando pequenas economias que permitissem possuí-la. Na verdade, era mais
fácil do que supunha. Alguns cigarros a menos, algumas fomes a mais (ABREU,
2008, p. 24-25).
Nesse
momento, a gravata ganha vida no texto, assume superioridade como pode
constatar no título do conto. Ocupa o espaço dos demais indivíduos nas relações
pessoais (objeto humanizado de um lado e sujeito coisificado de outro). Enquanto
a ausência de uma precisão na caracterização do protagonista remete a uma
equiparação entre todos os “homens”, entre todos os indivíduos que possuem
rotinas de trabalho, que tomam ônibus e vivem sozinhos, convertendo-o em apenas
mais um sujeito no meio da multidão, a impossibilidade de descrever com
precisão a gravata devido à complexidade com que se apresenta para o personagem
dá ao objeto um lugar de maior destaque do que o que é conferido ao sujeito. O
desejo, a necessidade pelo objeto se apodera do indivíduo de tal forma, que
este se vê absolutamente seduzido pela imagem da mesma:
“Era nada menos que perfeita
na sua cor vagamente indefinível, entremeada de pequenas formas coloridas, em
seu jeito alongado, na consistência que pressentia lisa e mansa ao toque”
(ABREU, 2001, p. 24), tanto é, que mesmo após concluir que não dispunha de
meios para pagá-la, não conseguiu desistir de comprá-la.
Recorrendo
ao conceito apresentado no próprio conto, uma gravata é um “lenço, manta ou
fita que os homens, em trajes não-caseiros, põem à roda do pescoço e por cima
do colarinho da camisa, atando-a adiante com um nó ou laço” (ABREU, 2008,
p. 26), ou seja, algo inapropriado, ou ainda, improvável para um sujeito que em
seu trabalho realize atividades que envolvam esforço físico – as quais são
desvalorizadas e até vistas com preconceito pela sociedade.
A
gravata é usada, comumente, em conjunto com um terno e com sapatos, sendo
associada a um traje mais formal e pertencente a ambientes de trabalho que
requerem o emprego da razão em oposição à força física. Vinculada ao ambiente
urbano, a gravata erige-se como uma marca da rotina de trabalho do protagonista
na urbe.
Quando,
enfim, consegue adquiri-la, o protagonista se vê em meio a sentimentos opostos:
ao mesmo tempo em que busca racionalizar o que sente na tentativa de perceber a
gravata como um objeto e, então, fazer uso dela, ele percebe a impossibilidade
de controlar suas emoções: o protagonista debate-se entre o objetivo (a lógica
do mercado) e o subjetivo (seus sentimentos).
“A cama pareceu menos vazia
que de costume” (ABREU, 2001, p. 27), fazendo as vezes de um
par romântico:
“Apalpou-a sôfrego, enquanto
sentia vontade de usar adjetivos pomposos e cintilantes, de recriar toda a
linguagem para comunicar-se com ela” (ABREU, 2001, p. 27).
Mas,
seus sentimentos não podem ser facilmente racionalizados. O sujeito do conto de
Abreu vê-se perdido, atordoado, pois o fato da gravata ser um objeto não impede
que ele a ame. No texto, o narrador nos mostra a gravata com traços humanos,
atribuindo-lhe também sentimentos:
“Que ela, sabia, também
ansiava por ele” (ABREU, 2001, p. 27).
Ao
tentar racionalizar o que sente, busca na falta de humanidade da gravata uma
justificativa para a impossibilidade de amá-la:
“Você é minha. Você não passa
de um objeto. Não importa que tenha vindo de longe para pousar entre coisas
caras na vitrine de uma loja rica. Eu comprei você. Posso usá-la a hora que
quiser. Como e onde quiser. Você não vai sentir nada, porque não passa de um
pedaço de pano estampado. Você é uma coisa morta. Você é uma coisa sem alma“
(ABREU, 2001, p. 28).
E
essa relação intensifica-se: “eu te amo
tanto, tanto” (ABREU, 2001, p. 29).
O
ato de vivenciar algo desconhecido, algo que ele não consegue racionalizar “por mais que tentasse racionalizá-la ou
enquadrá-la, ela sempre ficaria muito além de qualquer tentativa de
racionalização ou enquadramento” (ABREU, 2001, p. 29) coloca-o em conflito
existencial, surge a loucura em oposição à razão.
“Pois sempre fora tão
objetivo. Suportava apenas as superfícies onde o ar era plenamente respirável,
e principalmente onde os sentidos todos sentiam apenas o que era corriqueiro e
normal sentir. Subitamente pensava e sentia e dizia coisas que nunca tinham
sido suas” (ABREU, 2001, p. 29).
Quando
o protagonista assume seu medo, ele consegue ir além da objetividade que o
mantinha atrelado a sua rotina, que o fazia medir suas ações, que o limitava: “sim, podia fazer qualquer coisa”
(ABREU, 2001, p. 29).
A
personagem ao reconquistar seu equilíbrio, restabelecer sua totalidade e sair
do estado de alienação, no qual estava imersa, tenta lidar com o objeto. Há um
respeito e uma veneração do sujeito para com o objeto, mas aquele rompe a
barreira que os separava e assume o objeto como seu.
“Sentia-se aliviado. Já não
era tão cedo nem era mais sábado, mas se se apressasse podia ainda quem sabe
viver intensamente a madrugada de domingo” (ABREU, 2001, p. 30).
Nesse
momento, o objeto (gravata) que havia catalisado essa tomada de consciência
assume vida e sufoca o protagonista: a vida presente na gravata tira a vida do
protagonista.
“Ergueu os olhos para o
espelho e, antes de rodar sobre si mesmo para cair sobre o assoalho, ainda teve
tempo de ver um homem de olhos esbugalhados, [...] duas pontas de seda
estrangeira movimentando-se feito cobras sobre o peito [...]”
(ABREU, 2008, p. 28).
O
final do conto parece conduzir para uma visão fatalista, retratando a
impossibilidade do indivíduo de desvencilhar-se do contexto, do mercado, do
capitalismo, acabando por ser aniquilado. Entretanto, em seu sentido menos
aparente, encontramos um texto que alerta para as relações impessoais e
superficiais estabelecidas pela sociedade capitalista.
A
desintegração progressiva das ligações sociais, a crescente atomização da
sociedade, a intensificação do isolamento dos indivíduos, uns em relação aos
outros, e a solidão, necessariamente inerente a essas tendências, torna o
sujeito o próprio produto da alienação.
Abreu
faz uma crítica a esse modo de vida, no qual as identidades individuais entram
em conflito diante dos padrões e papéis sociais que necessitam exercer. Dessa
forma, a gravata, metáfora de “mercado”, impede que o indivíduo recobre sua
humanidade, sua totalidade, anulando sua existência.
O
conto, assim, mergulha na subjetividade do protagonista para mostrar-nos o
debate entre o objetivo e o subjetivo e a necessidade de conciliá-los. O
sujeito fragmentado, incompleto, surge alienado, como o reflexo do mercado. Sua
ambição está no consumo do melhor produto, na aparência. Porém, o consumo
continua mantendo-o incompleto.
Abreu
nos apresenta uma sociedade automatizada nas relações de produção e consumo e
mesmo nas relações sociais. Essa mudança teve como resultado sujeitos alienados
que perderam a noção de totalidade (de dominantes passaram a dominados). Na
sociedade capitalista moderna, o elemento subjetivo da realidade social surge
separado do elemento objetivo, como se fossem duas substâncias independentes:
subjetividade vazia de um lado e objetividade coisificada de outro; de um lado
o automatismo da situação dada e de outro a psicologização e a passividade do
sujeito.
A
única forma de romper com essa automatização é através da reflexão de que o
homem é o portador verdadeiro do movimento social, tanto no processo produtor e
reprodutor de sua vida.